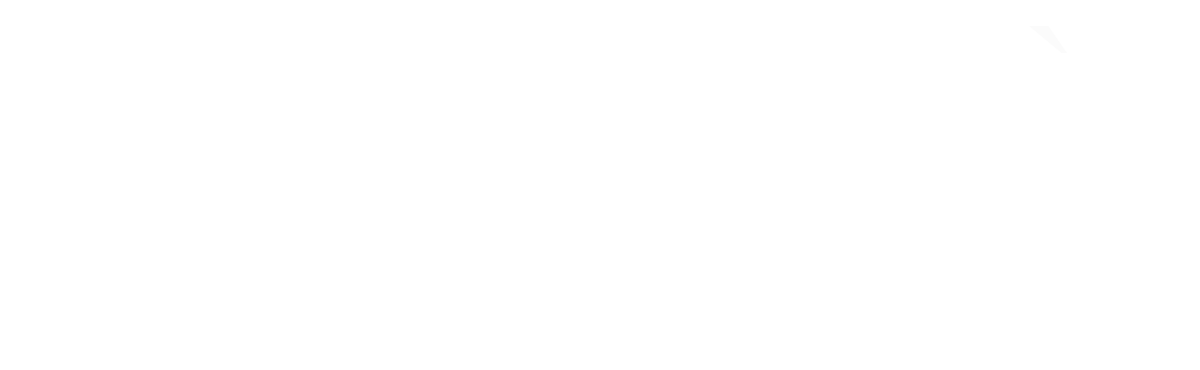O fenômeno das bonecas reborn — bonecas hiper-realistas que imitam bebês com impressionante fidelidade estética — vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Não se trata apenas de um nicho de colecionadores: mulheres adultas têm “adotado” essas bonecas como se fossem filhos, dando-lhes nomes, roupinhas, carrinhos e até certidões de nascimento. Essa prática, que se expande em países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália entre outros, chama atenção não apenas pelo seu caráter estético, mas sobretudo pelo que mobiliza no campo da subjetividade.
No Brasil, o crescimento da procura pelas bonecas reborn tem assumido contornos de “surto coletivo”, como apontado por observadores da cultura contemporânea. A princípio, não há necessariamente nada de patológico no interesse por bonecas — o brincar simbólico é constitutivo da psique, inclusive na vida adulta. E cá entre nós, as bonecas (e bonecos) são lindas e uma delícia de pegar. No entanto, quando a boneca passa a ocupar o lugar de um objeto de investimento afetivo exclusivo e substitutivo, é legítimo questionar quais vazios psíquicos ela busca preencher.
Do ponto de vista da saúde mental, muitos defensores das reborn apontam seus benefícios terapêuticos. Algumas mulheres em processo de luto por filhos perdidos, em infertilidade, depressão ou solidão profunda ou até em menopausa impossibilitadas por gerar relatam que as bonecas oferecem alívio, companhia e conforto emocional. Trata-se de um luto muitas vezes invisibilizado socialmente — não há um corpo para chorar, mas há um fim simbólico: o da maternidade possível.
Nesse contexto, a boneca pode funcionar como um receptáculo simbólico de cuidado, ternura e continuidade, permitindo que parte da identidade feminina encontre uma forma de expressão diante do que se encerra. A reborn pode operar como um objeto transicional ampliado, facilitando a elaboração da perda, ou servindo como suporte afetivo em fases de intensa reconfiguração psíquica.
Mas há um ponto delicado: até onde o consolo se transforma em recusa da realidade? A psicanálise nos ensina que o luto exige elaboração — o reconhecimento da perda como condição para seguir investindo na vida. Quando uma reborn é usada como substituto literal de um bebê perdido, de uma função materna não realizada, de um ninho vazio, há o risco de fixação psíquica. A boneca, nesse caso, não opera como metáfora ou simbolização, mas como defesa contra o insuportável. Ela permite um retorno imaginário ao estado de fusão, onde o bebê idealizado está sempre disponível, silencioso, dependente e controlável — sem risco de frustração, conflito ou abandono.
Vale refletirmos ainda se, cuidar de alguém — ou de algo — que não exige troca, que não demanda escuta, nem autonomia, não impõe o seu ser pode ser uma solução narcísica e não relacional.
O bebê-reborn não chora, não rejeita, não cresce, não precisa ser tolerado em sua alteridade. Ele se adapta à fantasia de quem cuida. É o outro que não impõe o outro — e, por isso mesmo, talvez funcione mais como extensão do eu do que como objeto de amor.
Nesse sentido, o vínculo com a boneca, em certas configurações, pode se inscrever numa lógica de mundo que existe apenas para ser atendido e não atender.
Um mundo onde o sujeito não precisa se implicar, se frustrar, se transformar. Um cuidado sem risco, sem desorganização, sem retorno.
Isso não significa que toda relação com uma boneca reborn seja patológica. O que importa é o lugar que ela ocupa na economia psíquica da pessoa. Se ela é um objeto colecionável que traz prazer ou opera como um recurso simbólico, uma metáfora do cuidado ou um apoio provisório em momentos de dor, pode ser integrativa. Mas se substitui relações humanas, paralisa o luto ou reforça a ilusão de controle sobre o outro, tende a empobrecer a vida emocional.
Para Freud, a repetição de um objeto perdido sem sua devida simbolização pode levar à melancolia, não à resolução. E Winnicott nos lembraria que o desenvolvimento emocional saudável envolve justamente a possibilidade de suportar a ausência e a frustração, e não apenas de manter viva a ilusão de completude.
Nesse debate, há ainda uma assimetria de gênero importante que raramente é discutida. Homens adultos que colecionam carrinhos, action figures ou videogames retrô são frequentemente vistos como “apaixonados”, “nostálgicos” ou “curadores de infância”. O brincar simbólico, quando masculino, é autorizado e até valorizado. Já quando uma mulher adulta brinca de boneca — ou investe afetivamente em uma boneca — ela é mais prontamente patologizada ou ridicularizada.
O que está em jogo aqui é o lugar social da mulher como cuidadora “real” — e o incômodo social quando ela transfere esse cuidado para um objeto que não cumpre função prática. A mulher que cuida de uma reborn fora do contexto da maternidade concreta desafia o papel esperado: ela direciona afeto para algo não funcional, não produtivo, não relacional no sentido social. E, por isso, é considerada “descompensada”. Enquanto isso, um homem adulto pode passar horas com seus jogos e bonecos de coleção sem ser interpelado quanto à sua saúde emocional. Por que o afeto feminino simbólico escandaliza, e o masculino lúdico é legitimado
Portanto, mais do que julgar ou ridicularizar esse fenômeno, é preciso escutá-lo. O que ele revela sobre o sujeito? Que necessidades estão sendo expressas nesse gesto de “adotar” uma boneca que não chora, não contesta e não cresce?
Talvez o maior risco não esteja na boneca em si — mas na ausência de espaços simbólicos legítimos para que adultos possam expressar, elaborar e cuidar do que lhes dói no mundo de hoje.